Se você ainda não conhece, Sula (1973) é um romance de Toni Morrison, recentemente trazido para o público brasileiro pela TAG Curadoria – por indicação da grande Conceição Evaristo!
O romance acompanha a fundação do Fundão, uma comunidade negra situada em Medallion (cidade ficcional em Ohio, nos Estados Unidos), marcada pela camaradagem tanto quanto pela violência, a luta pela sobrevivência e a solidão daquelas pessoas.
Ali começa a história da família Peace, que acompanha as vidas de quatro mulheres cujos caminhos são entrelaçados uns aos outros: as três gerações da família Peace – Eva, Hannah e Sula – e a melhor amiga de Sula, Nel Wright.
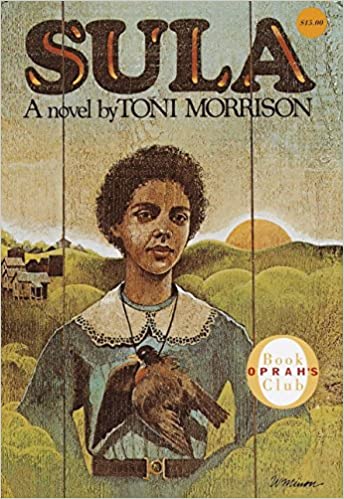
Criada numa casa movimentada e abarrotada de gente, Sula cresce num profundo isolamento, cuja única exceção é a presença reconfortante da amiga, Nel. Unha e carne, as duas chegam à vida adulta compartilhando as mais duras experiências, enfrentando a violência dentro da própria comunidade, as desavenças familiares e as mortes que estão sempre acontecendo ao seu redor.
Porém, depois de adultas, seus caminhos divergem: enquanto Nel se casa, tem filhos e se torna uma mulher de família, Sula sai de Medallion para fazer faculdade e conhecer o mundo, e assim como a mãe, Hannah, não se apega a nada nem a ninguém.
Dez anos depois de sua partida, Sula retorna à cidade natal, onde sua presença se torna um estorvo cada vez maior, dadas a sua arrogância e seu desprezo pelos laços matrimoniais. Exercendo intensamente o potencial de sua liberdade, Sula destrói os laços mais caros de sua existência, cujo destino é uma solidão cada vez mais acentuada.
A cidade, então, transforma Sula em uma Geni (vocês sabem, a Geni do Chico: “joga pedra na Geni, joga bosta na Geni”), fazendo com que a protagonista seja alvo de uma série de superstições e fofocas maliciosas: nem sempre falsas, quase nunca verdadeiras. Rejeitada pela comunidade, sua única companhia são os parceiros com quem se deita, frequentemente casados ou comprometidos – o que, logicamente, não contribuía muito para a sua popularidade entre as mulheres locais.
“Ela ia para a cama com homens na maior frequência possível. Era o único lugar onde achava o que procurava: sofrimento e a capacidade de sentir profunda tristeza.”
Sula, então, assume o papel da megera perversa: achincalhada pelas mulheres e temida pelas crianças; amada apenas pelos homens, mas somente enquanto dura a paixão de seus corpos. Nem família, nem amigos, nem amores – ninguém capaz de compreender sua forma perigosa de existir e de pensar. Por isso mesmo, Sula é uma eterna estranha, que por escolha própria se exila do pacto social e da vida em comunidade.
“Você monta no pônei e a gente raspa a bosta”?
Morrison, em seu brilhantismo de escrita, não nos autoriza a crer que sua protagonista seja apenas uma vilã implacável, uma destruidora de lares perversa e maquiavélica. Atentando para seus momentos íntimo de sensibilidade e introspecção, somos convidados a perceber o que os moradores de Medallion não poderiam jamais vislumbrar: que Sula, a despeito de seu comportamento antissocial e desagradável, não age por má-fé ou para causar intriga – Sula enxerga o mundo de uma forma diferente da que os outros o veem, de menos posse e mais liberdade.
Afinal, o desejo de Sula não é de “roubar” maridos e competir com as outras mulheres; ele passa pela defesa de uma moral que não seja pautada na exclusividade do acordo sexual, mas numa política de amizade que seja capaz de superar até mesmo a possessividade e o ciúme dos laços monogâmicos. De certo modo, o que Sula põe à prova é o limite das relações de companheirismo, evidenciando as contradições que estão no fundo das regras e acordos da vida em sociedade no que tange ao domínio do sexual.
“Depois que todas as velhas tiverem se deitado com os adolescentes; quando todas as meninas jovens tiverem dormido com os tios bêbados; depois que todos os homens negros treparem com todos os brancos; quando todas as mulheres brancas beijarem todas as negras; quando os guardas tiverem estuprado todos os presos e depois que todas as putas fizerem amor com as avós; depois que todas as bichas tiverem comido a mãe; quando Lindbherg dormir com a Bessie Smith e a Norma Shearer fizer aquilo com o Stepin Fetchit; depois que todos os cachorros tiverem fodido com todos os gatos e todo cata-vento em todo celeiro voar pelos ares para montar nos porcos… então vai sobrar algum amor por mim. E sei muito bem qual vai ser a sensação.”
Sula pode não ser nenhum anjo, mas certamente também não é a bruxa má que tentam pintar a seu respeito. Se sua filosofia de vida nos é tão estranha quanto era para a população do Fundão – criando todo esse alvoroço –, é que também nós vivemos sob a égide das relações monogâmicas, românticas e idealizadas, associando o amor à exclusividade sexual de maneira muito imediata, numa construção que mal se questiona, e que se pretende passar por natural. Quem sabe não possamos caminhar para novos acordos e possibilidades de arranjos, em que para cada par (ou conjunto, que seja) a lealdade tenha seu próprio significado? Afinal, se para alguns a fidelidade é um ponto fundamental para investir em um relacionamento, para outros há valores mais importantes, como a liberdade e a honestidade, por exemplo. Que cada um saiba do seu desejo e faça o melhor que puder com ele, sem que isso precise se aplicar a todo mundo por igual. Até porque nós não somos todos iguais, e nem precisamos ser.