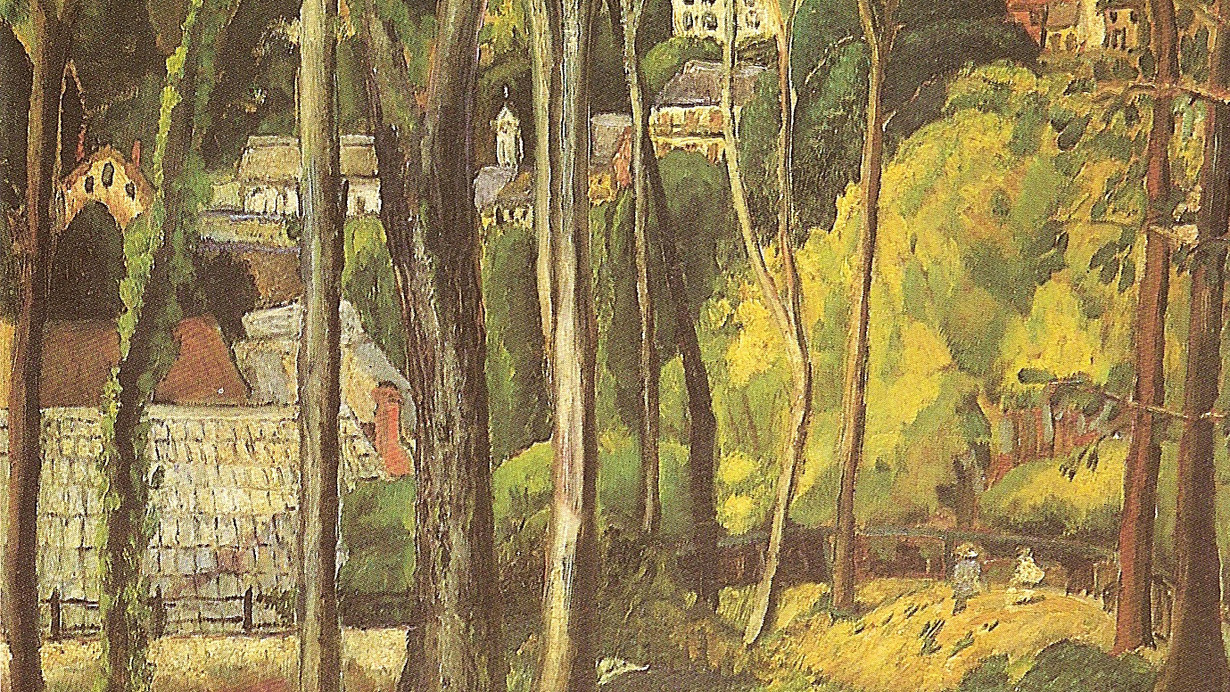Dentre as inúmeras raízes que a cultura brasileira possui está incluída a europeia. Desde o processo de colonização até as atualizações nos padrões políticos e econômicos contemporâneos, somos atravessador por valores que encontram seu berço no continente europeu. Evidentemente, por ser uma relação tão próxima, todos os campos do saber são afetados, o que explica a similaridade entre os primeiros movimentos modernistas em território nacional com a chamada Era dos Manifestos da Europa.
Nos poemas Tietê (1922), de Mário de Andrade, e Cartão-Postal (1930), de Murilo Mendes. encontramos alguns desses pontos em comum com a arte vanguardista europeia do começo do Século XX:
Tietê Era uma vez um rio... Porém os Borba-Gatos dos ultra-nacionais esperiamente! Havia nas manhãs cheias de Sol do entusiasmo as monções da ambição… E as gigânteas! As embarcações singravam rumo do abismal Descaminho… Arroubos… Lutas… Setas… Cantigas… Povoar!… Ritmos de Brecheret!… E a santificação da morte!… Foram-se os ouros!… E o hoje das turmalinas!… – Nadador! vamos partir pela via dum Mato-Grosso? – Io! Mai!… (Mais dez braçadas. Quina Migone. Hat Stores. Meia de seda.) Vado a pranzare com la Ruth. (Mário de Andrade. In: Pauliceia desvairada, 1922)
Cartão-Postal Domingo no jardim público pensativo. Consciências corando ao sol nos bancos, bebês arquivados em carrinhos alemães esperam pacientemente o dia em que poderão ler o Guarani. Passam braços e seios com um jeitão que se Lenine visse não fazia o Soviete. Marinheiros americanos bêbedos fazem pipi na estátua de Barroso, portugueses de bigode e corrente de relógio abocanham mulatas. O sol afunda-se no ocaso como a cabeça daquela menina sardenta na almofada de ramagens bordadas por Dona Cocota Pereira. (Murilo Mendes. In: Poemas, 1930)
Em ambos os poemas, a linguagem nominal prevalece, traço que é facilmente localizado no segundo verso do texto de Andrade e nos três primeiros do de Mendes: sentenças compostas por sintagmas sem verbo aparente. Para elaborá-las os autores lançam mão das formas nominais dos verbos, como o particípio (pensativo) e o gerúndio (corando), e de neologismos e advérbios (esperiamente). Tais recursos se assemelham aos utilizados pelos expressionistas, os quais faziam poemas com protagonismo nominal no sintagmas.
No poema de Mário encontramos também traços comuns ao futurismo: além da desconstrução da sintaxe tradicional, na terceira estrofe deparamo-nos com uma glorificação (ou constatação positiva) da morte (mesmo que de forma irônica), lugar comum da poesia futurista. Há, além disso, a ausência de um ‘sujeito do poema’ psicologizado. Ou seja, a relação de subjetivação do mundo se dá de forma diferente, beirando a forma literária épica. Esse movimento permite a simultaneidade do passado e do presente, atravessados pelo evento histórico (colonialismo) que é narrado.
Vale lembrar que Mário, em seu primeiro livro de poemas pós-22, mantém uma relação de proximidade com o Futurismo de Marinetti, o que foi sugerido em comentário de Oswald de Andrade sobre o livro, mas refutado no Prefácio Interessantíssimo, que abre Pauliceia Desvairada, pelo próprio Mário de Andrade.
No poema de Murilo Mendes as referências às vanguardas europeias também são claras. Além de também apresentar uma linguagem predominantemente nominal, há uma dissolução do sujeito psicológico do poema em um sujeito mundano, o que se soma à preferência por imagens cotidianas e não sublimes. Ainda que ao fim do poema haja uma imagem, digamos, belíssima, ele a emparelha com um gesto qualquer: o da menina que deita a cabeça na almofada. Essa composição e inter-relação entre imagens lembra a técnica de colagem utilizada pelos cubistas.
A crítica feita à tradição romântica – que europeíza e glorifica o colonialismo como forma de aprendizado e de assimilação da ‘cultura legitimamente brasileira’ – é identificada com maior clareza no poema Cartão-postal, pois aparece marcadamente no quarto verso. Contudo, isso não significa que Tietê não critique o colonialismo: o processo de apropriação do léxico ameríndio, começado pelos poetas românticos, foi preservado por Mário, que diferente daqueles não romantiza o processo colonial.
Apesar das similaridades com as correntes europeias, ambos os poetas deixam marcas de uma identidade moderna nacional, como as já citadas referências à tradição romântica brasileira e as marcas de localidade. Outra particularidade que deve ser ressaltada é justamente a diferença que estes poemas possuem entre si, demonstrando que não há de fato um alinhamento total com parâmetros pré-estabelecidos pelos movimentos modernistas da Semana de 1922 ou do chamado Modernismo de Primeira Fase.
Tanto Mário como Murilo transbordaram os parâmetros técnicos do qual se apropriaram para criar uma obra moderna, o que entra em sintonia com um comentário de Nuno Ramos, poeta, pintor etc. contemporâneo, feito na conferência Conversando com Nuno Ramos, do 50º Festival de Inverno da UFMG. Nele o artista diz que as imposições formais das escolas estéticas acabam por se render nas mãos do amadorismo e do improviso dos brasileiros, sempre em busca de uma “brasilidade” a partir desse lugar estranho.